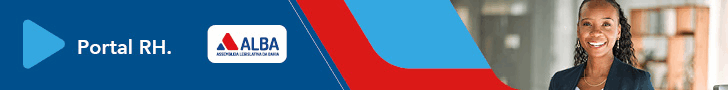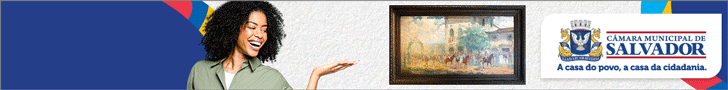A aproximação do futuro governo Jair Bolsonaro com a administração de Donald Trump é boa para os Estados Unidos e interessa a uma parte do núcleo ligado ao presidente eleito, mas seus benefícios para o Brasil ainda são uma incógnita, segundo avaliação de especialistas em relações internacionais ouvidos pela DW.
Na semana que passou, dois acenos foram feitos pelo futuro governo brasileiro a Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente, esteve nos EUA para se encontrar com importantes figuras do Partido Republicano, como os senadores Marco Rubio e Ted Cruz. Também esteve com Steve Bannon, ideólogo da campanha de Trump, mas hoje afastado do governo. O parlamentar foi fotografado com um boné da campanha para a reeleição de Trump e reafirmou que o Brasil vai levar sua embaixada em Israel para Jerusalém, uma pauta defendida pela bancada evangélica e já executada pelos Estados Unidos.
Já o próprio Bolsonaro recebeu, no Rio de Janeiro, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton. Um dos artífices da invasão ao Iraque em 2003, Bolton foi recebido por um Bolsonaro empolgado, que prestou continência ao americano. Na pauta, temas importantes da política externa trumpista: Cuba, Venezuela, Israel e China.
Em si, a aproximação com os EUA não é exatamente uma novidade na política externa brasileira. O Brasil faz parte da esfera de influência dos Estados Unidos e, ao longo do tempo, a relação teve momentos de maior ou menor intensidade.
As gestões Vargas (1951-1954), Jânio Quadros (1961) e Lula (2003-2010) ficaram conhecidas por tentativas de independência. Os momentos de maior tensão ocorreram em 1977, quando Geisel (1974-1979) rompeu um acordo militar de 25 anos com Washington, e 1987, quando o Brasil governado por José Sarney (1985-1990) foi alvo de sanções por conta da Política Nacional de Informática.
Por outro lado, os governos de Dutra (1946-1951) e Castelo Branco (1964-1967) se notabilizaram pela proximidade com Washington.
Para Giorgio Romano Schutte, professor da Universidade Federal do ABC, não há dúvidas de que a proximidade com Bolsonaro é bem-vinda para a Casa Branca. Ele destaca, por exemplo, que Bolton, um conhecido estrategista da geopolítica, deve fazer uso da boa relação com o Palácio do Planalto para avançar pautas caras a Trump. “Ele vai querer explorar oportunidades em que o Brasil pode ser útil para a agenda internacional dos EUA, como nas questões envolvendo Israel, Irã e Venezuela”, afirma.
Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, concorda. “A aproximação é bem recebida pela Casa Branca porque talvez seja o conjunto de concessões mais fácil que Trump retirou de alguém até agora”, diz. “Não me lembro de um governo que, antes mesma da posse, tenha feito tantas sinalizações de mudança de política externa cujo objetivo quase que exclusivo é agradar aos EUA”, comenta.
Preocupa os especialistas, no entanto, ser difícil vislumbrar contrapartidas práticas por parte do governo Trump em troca do apoio diplomático brasileiro. “O Brasil espera o retorno do fluxo de investimentos americano para cá e a normalização do comércio, mas os EUA não parecem estar interessados em normalização comercial com ninguém no momento e, além disso, essas questões dependem muito pouco do voluntarismo do presidente dos EUA”, observa Casarões.
Para o professor da FGV, fora do aspecto econômico, há ainda menos justificativas para a guinada na política externa brasileira. “Do ponto de vista político, a rigor, não há nada que os EUA prometam para nós que justifique uma inflexão de política externa neste momento”, afirma. “O que está faltando ao Brasil, fora do âmbito econômico, que os americanos preencheriam?”, questiona.
A resposta para a aproximação passa pelas motivações ideológicas de Bolsonaro e seus assessores. O jogo retórico de apoio a Trump agrada os setores mais radicais do governo eleito.
Trata-se de um grupo representado pelos filhos de Bolsonaro, Eduardo à frente, e por futuros ministros, como os das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. Ambas nomeações tiveram a benção de Olavo de Carvalho, filósofo baseado nos EUA que é um dos principais ideólogos do bolsonarismo. Carvalho tem entre seus alvos o que chama de “globalismo” e “marxismo cultural”, também vistos como ameaças pelos futuros ministros.
“O futuro chefe do Itamaraty faz análises [sobre “marxismo cultural” e “globalismo”] curiosas e bastante isoladas no pensamento da política externa brasileira, tanto no Itamaraty quanto na academia”, afirma Schutte. É um pensamento, destaca o professor da UFABC, que dialoga desde antes das eleições com a ala mais radical do governo Trump.
“Essas pessoas se sentem respaldadas pelo fato de que, neste momento, o presidente do país mais poderoso do mundo pensa da mesma forma que elas”, diz. A interlocução com a Casa Branca pode, assim, se traduzir em algum prestígio. “Isso pode ajudar a marcar o caráter ideológico do governo e fortalecer essa ala”, afirma.
Um problema das concessões que Bolsonaro pretende fazer são as eventuais resistências internas a algumas das pautas favorecidas pelos EUA. A mudança da embaixada em Israel, por exemplo, deverá enfrentar novas críticas dos ruralistas, que temem perder o mercado árabe. As Forças Armadas muito provavelmente rechaçariam uma aventura militar na Venezuela. E amplos setores da economia temem qualquer distanciamento da China, o maior parceiro comercial do Brasil e contra quem Trump promove uma guerra comercial.
Todos esses são atores cujos interesses ficariam ameaçados por aventuras externas. O mesmo não acontece com outros blocos de apoiadores de Bolsonaro. “A bancada da Bíblia e esse grupo ‘antiglobalista’ têm reivindicações que estão mais no campo das ideias do que no plano material”, afirma Casarões. “Para eles, a guinada ideológica representa um ganho. Quem tem questões financeiras envolvidas é muito mais cauteloso e não deseja se aventurar na política externa.”
 #Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!
#Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!