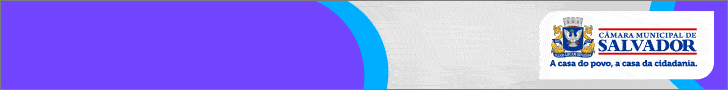Segundo a Folha, a pandemia da Covid-19 ajudou Bolsonaro visando a reeleição presidencial de 2022 principalmente no Nordeste
Se o agravamento da crise política chegou a um paroxismo entre abril e junho, levando a debates que foram de impeachment a golpe militar, a configuração mudou conforme publicou neste domingo (23) o jornal Folha de SP.
O que se vê agora é a volta do presidente Jair Bolsonaro ao jogo sucessório e a emergência da questão econômica como tema central para 2022.
Isso tudo congestiona o caminho dos desafiantes pelo centro e centro-direita e coloca a esquerda numa posição paradoxalmente mais difícil.
Esse é um resumo grosseiro da avaliação feita à Folha por líderes e presidentes de partidos, governadores, autoridades do governo, marqueteiros e agentes de mercado ao longo desta semana.
A ideia foi avaliar o cenário após o Datafolha mostrar a melhoria da popularidade de Bolsonaro e, principalmente, seu descolamento atual da responsabilidade pelos quase 115 mil mortos da Covid-19 até aqui.
O presidente recuperou sua aprovação e chegou ao melhor índice do mandato até aqui, 37%. Apenas 11% o responsabilizam integralmente pelas mortes, e 47% acham que ele não teve nenhuma culpa.
Assim, políticos que viram uma onda de impeachment se formar com o agravamento do embate institucional na curva ascendente da crise sanitária agora refazem as contas.
Nas palavras de um governador, a frigideira saiu do fogão. Ele crê que o Congresso não assumirá uma posição mais agressiva ante Bolsonaro até o controle da pandemia, mas que depois a situação é insondável neste momento.
Um outro acredita que o presidente ainda não escapou integralmente do impedimento, pelo mesmo motivo que o fez baixar o tom: os rolos judiciais de sua família.
Há uma variável cruel: quase todos os ouvidos acreditam que em 2021 a Covid-19 dará lugar à questão econômica, mas isso não é tão cristalino para autoridades sanitárias.
Tudo dependerá de uma combinação de haver vacinas eficazes em quantidade com a ampliação da imunidade de rebanho já registrada em grandes centros, segundo especialistas no assunto.
Se isso ocorrer, até aqui Bolsonaro foi quem mais se beneficiou. Primeiro, o presidente deixou a linha de frente de embate com Congresso e Supremo, após a prisão do amigo Fabrício Queiroz em 18 de junho.
Depois, colheu frutos de sua atitude negacionista, transmutada em terceirização da responsabilidade da crise para estados e municípios.
Só que, como aponta um presidente de partido do centrão, o chefe do Executivo já começou a se expor ao iniciar a campanha pela reeleição com a agenda de viagens pelo Nordeste.
Outro governador, de oposição centrista, afirma que Bolsonaro dificilmente irá se conter por muito tempo, logo será melhor deixá-lo solto.
Isso traz ecos do que o então poderoso PSDB fez com Luiz Inácio Lula da Silva na esteira do mensalão, em 2005: a ideia de “deixar sangrar”, só para ver o adversário reeleito.
Seja como for, foram submersas as articulações outrora bem públicas para criar uma alternativa ao centro.
O espaço foi ocupado mais ostensivamente pelo governador tucano João Doria (SP), mas aliados dele creem que o melhor é manter o tom moderado até o aclarar de 2021.
Para o tucano, o saldo é duplo. A pandemia o projetou nacionalmente como opção anti-Bolsonaro, mas também deposita na sua conta os ônus administrativos da crise.
Já sobre o apresentador Luciano Huck (sem partido), mal se ouve. Um antigo colaborador do global, remanescente da pré-campanha abortada em 2018, diz não acreditar numa candidatura mais.
Nesse campo, a pandemia colheu politicamente um pretendente, o governador Wilson Witzel (PSC-RJ), enrolado com um impeachment.
E apresentou dois atores que hoje são incógnitas: os ex-ministros Sergio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).
O ex-juiz da Lava Jato já tinha visibilidade nacional e ganhou a companhia de Mandetta devido a seu papel de mártir no embate com Bolsonaro sobre a pandemia —algo duvidoso, dada a distância do presidente dos mortos da crise.
Um cético do DEM, partido que trabalha por um arranjo com PSDB e MDB que hoje seria encabeçado por Doria, diz que o momento é de muda.
Isso fica claro na esfriada, como define um aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nos embates com o governo na Câmara.
Para ele, a discussão sobre a sucessão na Casa, hoje apontando para o presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), precisa ser tirada do plenário.
Há, lembra outra política, uma reforma tributária para ser debatida, com ou sem Paulo Guedes (Economia).
A condicionante foi ouvida pela reportagem várias vezes, inclusive entre membros do governo, a despeito de Bolsonaro ter comprado o discurso do ministro de que voltaria para a “zona sombria” do impeachment se furasse o teto constitucional de gastos.
Para um integrante da ala militar do governo, que está de olho na cadeira de Guedes, o ministro não é intocável.
Não concordam os suspeitos usuais, operadores do mercado financeiro. Entre eles, hoje a esperança é menos de uma reforma liberal e mais de que o ministro fique para evitar uma gastança similar à feita por Luiz Inácio Lula da Silva em 2010 e por Dilma Rousseff em seu primeiro mandato.
Aqueles movimentos foram determinantes para a debacle financeira que ajudou a expelir o PT do Planalto em 2016.
A esquerda, por sinal, vive um paradoxo. Bolsonaro é altamente polarizante, o que em tese favoreceria um novo tira-teima com o partido de Lula (com ou sem o petista).
Mas a pandemia forçou o governo a adotar políticas assistenciais, triplicadas pelo Congresso, que geraram um efeito Bolsa Família.
Isso tira gás do PT entre um eleitorado antes fiel, daí as promessas de renovadas iniciativas no campo pelo partido.
Na prática, quem tem o cofre é o presidente, e em termos de discurso a esquerda poderá ficar avariada para 2022.
Mas o assistencialismo se trata também de uma armadilha: não há como manter tal apoio aos mais pobres sem estourar as contas do país.
Para um especialista eleitoral, isso deve priorizar o debate sobre rendas básicas. O modelo a ser adotado pelo governo, até aqui, sugere um populismo ao estilo PT.
Isso pode vir a reeleger Bolsonaro, mas também pode transformá-lo numa Dilma.
Como se vê, o jogo ganhou nuances antes não vistas, dignas da definição simples do presidente de uma grande sigla de centro: nada está certo.
 #Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!
#Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!