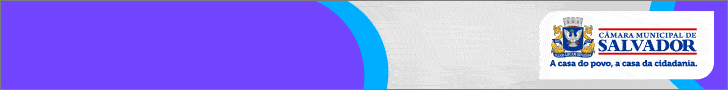60% das doenças infecciosas que afetam os humanos começam em animais – Covid-19, ebola e HIV são só uns poucos exemplos. Por isso, alguns cientistas propõem vacinar animais selvagens antes que seus vírus pulem para humanos. E a única maneira de fazer isso seria com uma nova tecnologia: vacinas que se espalham sozinhas, diz Maria Clara Rossini, em reportagem na revista Super.
Em novembro de 2024, o Brasil parou de aplicar a vacina oral contra a poliomielite (VOP). O imunizante foi substituído por uma versão injetável, que é aplicada em crianças de dois a 15 meses. Hoje, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso apenas da injeção, o que levou mais de 60 países a abolir a única dose indolor do calendário. Agora, só com a espetada.
A VOP foi muito importante, é claro: erradicou a pólio do Brasil, que não registra casos desde 1989, e serviu de inspiração para o personagem ícone da vacinação nacional, o Zé Gotinha. Mas, apesar de seus méritos, ela apresentou um efeito colateral inesperado.
A VOP é feita com uma versão atenuada do vírus da poliomielite. O patógeno enfraquecido é suficiente para desencadear uma resposta imunológica nas crianças, mas não para causar a doença. Por ser engolido, o vírus necessariamente passa pelo sistema digestório. Alguns vírions, então, saem no cocô das crianças e vão parar no esgoto.
Esses vírions atenuados mantêm a capacidade de se replicar, ainda que precariamente. Em países com saneamento básico deficiente e baixa cobertura vacinal, pessoas não imunizadas podem entrar em contato com essa versão capenga do vírus por meio do esgoto. Dessa forma, o patógeno continua se multiplicando no corpo de outros indivíduos, que por sua vez excretam-no novamente no ambiente.
O problema é que o vírus muda um pouquinho cada vez que se reproduz. Com o passar do tempo, após vários ciclos de contaminação e excreção, ele pode recuperar a capacidade de causar a doença. É o chamado “poliovírus circulante derivado da vacina”, ou cVDPV. Os primeiros casos de pólio causados pelo cVDPV foram identificados nos anos 2000 – e, atualmente, essa é a variante mais prevalente no mundo.
É por isso que a OMS recomendou mudar o método de vacinação. A vacina injetável contém apenas fragmentos do vírus da pólio. Ele gera imunidade, mas não consegue se reproduzir no organismo. A estratégia faz parte dos esforços para erradicar a pólio de vez no mundo todo, já que ainda há casos da doença em 48 países. O poliovírus selvagem, raiz, circula apenas no Paquistão e no Afeganistão. Os outros 46 países sofrem surtos causados pelo cVDPV (1).
Apesar de tudo ter ocorrido por acidente, a gotinha se tornou o caso mais emblemático de uma tecnologia ainda incipiente que hoje é chamada de vacina transmissível. A ideia é simples: soltar vírus enfraquecidos de propósito no meio ambiente. Não com o objetivo de usá-las em humanos, e sim em outros animais, para imunizar bichinhos selvagens que certamente não esperariam na fila da UBS.
Um artigo publicado na Science (2) em 2024 debate essa possibilidade. Seria uma maneira não só de eliminar doenças que fazem mal a diversas espécies – algumas em risco de extinção –, mas também de impedir que esses vírus se adaptem e passem a infectar humanos. O que é sinônimo de evitar, no futuro, uma nova pandemia – potencialmente mais devastadora que a de Covid-19. A seguir, entenda essa história.
Na natureza selvagem
O sars-cov-2, vírus responsável pela pandemia de Covid-19, muito provavelmente surgiu em um animal. Embora sua origem exata ainda seja desconhecida, a hipótese mais disseminada afirma que o paciente zero contraiu o patógeno de alguma espécie selvagem no mercadão de Wuhan, na China. Sabemos também que o sars-cov-1, um outro coronavírus que se espalhou pela Ásia em 2003 – mas causou bem menos estrago –, infectava morcegos originalmente.
É uma história comum. O HIV, causador da aids, evoluiu a partir de um vírus que circulava em chimpanzés. Os vírus do ebola também vieram de primatas. Por sua vez, os vírus da gripe aviária (que foi o provável responsável pela gripe espanhola em 1918) e da gripe suína (causadora da pandemia de 2009, que popularizou o álcool gel no Brasil) circulam em aves e porcos, como os nomes já indicam.
Geralmente os vírus se contentam em infectar apenas sua espécie hospedeira, mas nem sempre. Os exemplos acima são casos de spillover, quando um patógeno passa a infectar uma outra espécie, que ainda não tem imunidade para combater aquele invasor.
O spillover ocorre graças às mutações aleatórias que os vírus adquirem naturalmente ao se reproduzirem. Algumas delas podem favorecer sua disseminação – por exemplo, quando surge uma mutação no gene para uma proteína que permite ao vírus entrar em células humanas. Se um humano incauto entrar em contato com o animal que carrega o vírus com essa mutação, esse pode ser o marco zero de mais alguns anos de isolamento social.
Estima-se que existam 10 mil espécies de vírus em mamíferos com potencial de causar doenças em humanos, mas a maioria deles circula em animais selvagens (3). O problema é que, com as mudanças climáticas e a degradação de biomas, muitas espécies têm se deslocado de seus habitats naturais em busca de comida e de um clima mais adequado. Isso faz com que os animais se aproximem dos centros urbanos, aumentando as chances de contato conosco.
Cerca de 60% das doenças infecciosas conhecidas chegaram aos humanos por meio de animais (4). Para doenças novas e emergentes, a porcentagem é 75%. “Existe um número enorme de vírus, e não tem como a população ter anticorpos para todos eles. Eventualmente acontece de eles passarem para humanos”, diz Maria Vitória de Moraes, médica veterinária que pesquisa vírus em morcegos da Mata Atlântica.
Em 2023, a pesquisadora participou de um congresso internacional que discutiu o desenvolvimento de vacinas transmissíveis. Ao imunizar os animais, a ideia é cortar o mal pela raiz, combatendo um vírus patógeno antes que ele seja transmitido aos humanos.
Existem estratégias para vacinar animais selvagens desde os anos 1980. Quando há surtos de raiva em uma floresta próxima à cidade, por exemplo, é possível vacinar os bichos para evitar que o vírus se espalhe para humanos e animais domésticos. O imunizante é colocado em iscas que são lançadas ou espalhadas por helicópteros. Cada isca só vacina o animal que a ingere – o que é suficiente para controlar um surto local, mas não para erradicar uma doença.
Uma vacina transmissível se espalharia sozinha, eliminando o desafio de vacinar vários animais selvagens individualmente. Ao gerar imunidade de rebanho, ela protegeria a espécie vacinada e outras também, sem a necessidade de atender os bichinhos individualmente, o que seria virtualmente impossível.
Vírus do bem
As vacinas transmissíveis podem ser feitas de duas formas: com vírus atenuado, como a vacina oral da pólio; ou com vírus recombinante. A primeira é considerada mais arriscada, pois já vimos que o vírus pode adquirir mutações que o fazem voltar à forma que causa a doença.
A segunda opção é mais segura. Primeiro, é necessário escolher um vírus inofensivo que circula apenas em uma espécie – por exemplo, um herpesvírus específico de gorilas. Esse se tornaria o vetor da vacina. Depois, os cientistas enxertariam um pedacinho do DNA de um vírus maléfico dentro desse vetor. Isso é feito com técnicas de edição genética, em laboratório.
No final, temos a mistura de um vírus inofensivo com um pouco de material genético de um vírus que causa uma doença. Isso é suficiente para desencadear uma resposta imune contra o vírus patógeno, mas sem deixar o animal doente – ou seja, uma vacina. Por manter as características do vírus vetor, o imunizante deve se espalhar entre os indivíduos da espécie como se fosse uma gripe do bem, que protege todo mundo.
Para Scott Nuismer, professor da Universidade de Idaho e um dos pesquisadores mais engajados no tema, é praticamente impossível que uma vacina recombinante passe a transmitir a doença. O que pode acontecer é o contrário, que o vírus vetor acabe “perdendo” os genes do patógeno ao longo do tempo e se torne ineficaz. É seleção natural: se o trecho do material genético inserido artificialmente não favorece a reprodução do vírus, não há motivo para ele estar ali. Por isso, pode ser necessário vacinar os animais mais de uma vez.
Mesmo que seja projetado para ser benéfico, um vírus ainda carrega sua parcela de imprevisibilidade. Uma possibilidade é que, ao imunizar os animais, a vacina abra espaço para outras infecções, liberando um “nicho” de oportunidade que antes era ocupado pelo patógeno.
O congresso de 2023 estabeleceu normas de segurança que devem ser seguidas no desenvolvimento dessas vacinas. Uma delas é usar vetores que já circulam na natureza, sem fazer edições genéticas que aumentem sua transmissibilidade.
“O vírus não pode se espalhar para outras espécies. São necessários testes rigorosos para evitar que a vacina cause efeitos indesejados tanto na espécie-alvo quanto em outras”, diz Moraes. “E temos que monitorar mutações, além de criar planos de contingência.”
Para conter surtos locais, uma aposta mais sensata seria o uso de vacinas transferíveis, e não transmissíveis. Nesse modelo, a vacina é aplicada na pele do animal, na forma de um creme. Ela se espalha por meio dos hábitos de higiene típicos da espécie, em que um animal lambe, mexe e se esfrega no outro. Esse é um comportamento observado em morcegos e macacos, por exemplo.
Dessa forma, a vacina só seria transferida para os animais que entram em contato com seus pares que receberam o creme. E esse método, naturalmente, é mais eficaz que as iscas convencionais.

Em uma expedição realizada em 2017 no Peru, pesquisadores verificaram como uma possível vacina transferível contra a raiva se espalharia entre morcegos. Os cientistas encontraram três colônias com mais de 200 morcegos, e passaram um creme com um biomarcador inofensivo nas costas de 20 a 60 animais em cada grupo. Aqueles que ingeriram o produto ficavam com o pêlo fluorescente. Alguns dias depois, pelo menos 84% dos morcegos em duas colônias estavam brilhando (5).
O alcance das vacinas transferíveis é menor em comparação às transmissíveis. Mesmo assim, elas têm potencial de erradicar doenças localmente. Além disso, as vacinas transferíveis usam uma tecnologia que já existe, o que facilita sua implementação. Embora não sejam suficientes para evitar uma pandemia, elas poderiam ser empregadas o quanto antes para proteger humanos e animais que vivem em regiões com alta prevalência de raiva e outras zoonoses.
Em busca da vacina perfeita
A primeira experiência com vacinas transmissíveis intencionais data da década de 1990. Um grupo de pesquisadores do Centro de Pesquisa em Saúde Animal de Madrid desenvolveu um imunizante contra duas doenças: mixomatose e doença hemorrágica de coelhos – RHD, na sigla em inglês. Esses vírus não infectam humanos, mas ambos são altamente letais para os orelhudos. (Ironicamente, a pesquisa foi financiada por uma federação de caçadores espanhóis. Eles queriam imunizar os coelhos para que pudessem, eles mesmos, continuar matando os animais.)
Na vacina desenvolvida, o vírus atenuado da mixomatose foi modificado para expressar uma proteína do vírus do RHD. Dessa forma, um único patógeno estimulava a produção de anticorpos contra as duas doenças no organismo dos coelhos. Como o vírus da mixomatose é bastante contagioso, a vacina se espalhava facilmente entre os animais.
Até hoje, a vacina transmissível contra mixomatose e RHD foi a única a ser testada no mundo real. A prova de fogo foi feita na Isla del Aire, uma ilhota de 34 hectares localizada na costa sudeste de Menorca. O pedaço de terra tem uma população total de 300 coelhos. A vacina foi aplicada em 76 deles, que logo desenvolveram anticorpos contra as doenças. Metade da população não inoculada também ficou imune, graças à transmissibilidade da vacina.
Um artigo publicado em 2001, que descreve o teste (6), relata que não houve efeitos indesejados graves. No entanto, os autores ressaltam a importância de realizar os primeiros estudos em ambientes isolados geograficamente, como ilhas ou cordilheiras de montanhas. Isso garante que a vacina possa ser controlada caso algo dê errado.
Além disso, os animais desconhecem fronteiras. Uma vacina aplicada em coelhos da Espanha poderia facilmente aparecer em outro país. “A ideia é justamente que ela se espalhe. Então seria preciso ter algum tipo de acordo internacional para evitar maiores problemas”, diz Moraes. Na Austrália, por exemplo, os coelhos se tornaram uma praga desde que foram introduzidos no bioma, desbalanceando a flora e a fauna nativas. O objetivo por lá é controlar a população de coelhos, e não aumentá-la – o contrário do que propõe a vacina espanhola.
De toda forma, a vacina dos coelhos não foi para frente. Em entrevista a uma rede de rádio alemã, o pesquisador Juan Bárcena, que participou dos estudos, disse que um segundo experimento foi feito no continente. Os cientistas tentaram recriar as condições naturais em uma fazenda, como a presença de predadores. Só que dessa vez a vacina não se espalhou tão bem, e o financiamento acabou cortado.
Desde então, pouquíssimos experimentos conclusivos ocorreram. No início dos anos 2000, por exemplo, pesquisadores da Universidade de Nevada desenvolveram uma vacina contra um hantavírus usando um citomegalovírus específico de roedores como vetor. Após a aplicação, os animais até desenvolveram anticorpos contra o vírus indesejado, mas a transmissibilidade do vetor não foi avaliada (7).
Essa experiência, no entanto, serviu de inspiração para um outro imunizante. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Plymouth desenvolveram uma vacina contra ebola usando um citomegalovírus (8). O ebola é extremamente letal para humanos e outros primatas, com uma taxa de mortalidade que varia de 25% a 90%, então a imunização vem bem a calhar.
Os pesquisadores britânicos acreditam que o citomegalovírus seja o vetor ideal para as vacinas transmissíveis: ele é benigno, altamente infeccioso, e espécie-específico. Um citomegalovírus que infecta chimpanzés não passa para gorilas, e vice-versa.
Além disso, ele pode infectar o hospedeiro mais de uma vez. Isso é importante porque a maior parte dos animais (inclusive humanos) já foi infectada por citomegalovírus no passado. Se todos tivessem imunidade a ele, a vacina não se espalharia. É importante que ela gere anticorpos apenas contra o antígeno que está dentro do vetor, e não contra o vetor em si. No experimento realizado em 2015, foi exatamente isso que aconteceu: os ratinhos imunizados geraram anticorpos apenas contra o ebola. Leram a mensagem sem matar o mensageiro.

Atualmente existem dois projetos de vacinas transmissíveis em desenvolvimento, ambas na Inglaterra. Na Universidade de Plymouth, pesquisadores trabalham em uma contra o vírus de Lassa, que circula em roedores e causa a febre de Lassa em humanos. Já a Universidade de Glasgow desenvolve um imunizante contra a raiva projetado para circular entre morcegos. Ambas são doenças bem conhecidas que afetam humanos quase exclusivamente após o contato com animais.
“Outras possibilidades incluem doenças zoonóticas como o vírus Marburg [parente do ebola] e o vírus Nipah”, diz Nuismer. Como a tecnologia ainda está em sua fase inicial, os pesquisadores focam em doenças bem documentadas que já são um problema para os humanos. “Usar vacinas transmissíveis para atingir novos vírus que poderiam causar uma futura pandemia é desafiador, e não é um dos objetivos imediatos.”
Você pode ter se perguntado se eventualmente surgirão vacinas transmissíveis aplicadas em humanos. Afinal, o combate a doenças infecciosas é um dos maiores desafios da saúde global, e já temos imunizantes para muitas delas. Transmitir um vírus protetor seria uma maneira eficaz e barata de atingir alta cobertura vacinal.
Mas essa ideia está fora de cogitação para especialistas da área. Não só por ser uma violação bioética, visto que a transmissibilidade impede o consentimento individual de se vacinar. Mas também porque existem pessoas com contraindicações à vacinação, como os imunossuprimidos. Para eles, a possibilidade de pegar a vacina por meio do ar ou contato físico seria um risco constante. O plano mais viável é mesmo prevenir em vez de remediar: pôr fim aos vírus antes que eles cheguem a nós.
Referências (1) Global Polio Eradication Initiative; (2) artigo “Developing transmissible vaccines for animal infections”; (3) artigo “Global estimates of mammalian viral diversity accounting for host sharing”; (4) artigo “Prioritizing Zoonoses for Global Health Capacity Building—Themes from One Health Zoonotic Disease Workshops in 7 Countries, 2014–2016”; (5) artigo “Fluorescent biomarkers demonstrate prospects for spreadable vaccines to control disease transmission in wild bats”; (6) artigo “First field trial of a transmissible recombinant vaccine against myxomatosis and rabbit hemorrhagic disease”; (7) artigo “Generation of a Recombinant Cytomegalovirus for Expression of a Hantavirus Glycoprotein”; (8) artigo “A cytomegalovirus-based vaccine provides long-lasting protection against lethal Ebola virus challenge after a single dose”. Fontes Akira Homma, assessor científico sênior de Bio-Manguinhos.
 #Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!
#Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!