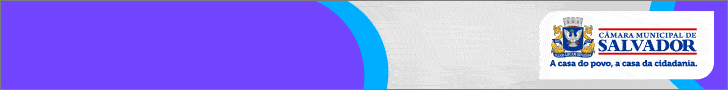Se a guerra em Gaza fosse como as outras, um cessar-fogo provavelmente já estaria em vigor.
Os mortos teriam sido enterrados e Israel estaria discutindo com a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto cimento poderia entrar em Gaza para os esforços de reconstrução.
No entanto, essa guerra não é assim.
Primeiro, pelo enorme número de mortes, inicialmente pelo Hamas em 7 de outubro, em ação que vitimizou em sua maioria civis israelenses.
E, em seguida, pela “poderosa vingança” contra o grupo, como classificou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, referindo-se à operação militar que tem resultado na morte principalmente de civis palestinos.
Mas não é só isso.
Essa guerra é diferente das outras porque acontece em um momento em que as frágeis linhas que dividem o Oriente Médio estão estremecidas.
Há pelo menos duas décadas, a maior divisão na fragmentada paisagem geopolítica da região tem sido entre amigos e aliados do Irã e amigos e aliados dos Estados Unidos.
O núcleo da rede de apoio iraniana, às vezes chamada de “eixo de resistência”, é formado pelo Hezbollah no Líbano, pelo regime de Bashar al-Assad na Síria, pelos rebeldes houthis do Iêmen e diversas milícias iraquianas armadas e treinadas pelo país dos aiatolás.
Os iranianos também apoiaram o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza.
E o país está se aproximando da Rússia e da China, transformando-se em um elemento relevante nas ações russas na Ucrânia. Além disso, a China compra grandes quantidades de petróleo do Irã.
Quanto mais tempo a guerra em Gaza durar, e Israel matar mais civis palestinos e destruir dezenas de milhares de residências, maior será o risco de um conflito envolvendo integrantes dos dois polos geopolíticos.
As tensões na fronteira entre Israel e Líbano estão aumentando lenta e gradualmente. Nem Israel, tampouco o Hezbollah querem uma guerra em larga escala.
Enquanto os dois lados trocam agressões de forma progressiva, os riscos de uma escalada fora de controle crescem.
Os houthis – uma organização militar e política xiita que controla parte do Iêmen depois da tomada da capital Sanaa em 2014, o que originou a guerra no país – têm lançado mísseis e drones contra Israel.
Até agora, os artefatos têm sido interceptados pelas defesas aéreas israelenses ou por navios da Marinha dos EUA no Mar Vermelho.
No Iraque, milícias apoiadas pelo Irã atacaram bases americanas. Os Estados Unidos retaliaram atacando territórios controlados por eles na Síria.
Todos os lados buscam limitar uma escalada, mas o controle exato de ações militares é sempre difícil.
Os aliados dos EUA
Do lado americano estão Israel, alguns países do Golfo, Jordânia e Egito.
Os Estados Unidos continuam a apoiar fortemente Israel, por mais que esteja claro o desconforto do presidente americano Joe Biden com as mortes de tantos civis palestinos.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, já disse publicamente que civis palestinos demais têm sido mortos.
Todos os aliados árabes dos EUA condenaram as ações israelenses e pediram um cessar-fogo.
As imagens de centenas de milhares de palestinos fugindo de suas casas no norte de Gaza rumo ao sul rememora os fantasmas da vitória israelense sobre os árabes na Guerra da Independência de 1948.
Naquela ocasião, mais de 700 mil palestinos fugiram ou foram forçados a sair de suas casas sob a mira de armas pelos israelenses, episódios chamados por eles de Nakba – a catástrofe. Descendentes dos refugiados de 1948 formam boa parte da população da Faixa de Gaza.
Falas perigosas vindas de nacionalistas extremistas judeus que apoiam o governo Netanyahu sobre impor uma nova Nakba aos palestinos vêm alarmando países árabes aliados aos EUA, em particular a Jordânia e o Egito.
Um ministro do governo Netanyahu inclusive contemplou a possibilidade de lançar uma bomba nuclear em Gaza contra o Hamas. Ele foi repreendido, mas não demitido.
Tudo isso poderia ser descartado como rompantes de uma ala lunática, mas é levado a sério na Jordânia e no Egito.
Não o uso de armas nucleares – das quais Israel mantém um grande arsenal, de proporções não declaradas –, mas a probabilidade de centenas de milhares de palestinos serem forçados a deixar seus territórios.
A ‘solução de dois Estados’
Quanto à guerra em Gaza em si, diplomatas de alta patente de países que são aliados firmes dos aliados de Israel disseram à BBC que acabar com o conflito e lidar com suas consequências será “difícil e trabalhoso”.
Um deles disse que “a única forma seria reconstruir um horizonte político para os palestinos”. Trata-se de uma referência a um Estado independente palestino ao lado de Israel, a chamada solução de dois Estados, uma ideia considerada por muitos como fracassada, e que sobrevive apenas como um slogan.
Ressuscitar essa opção, talvez no contexto de um acerto mais amplo entre Israel e os árabes, é um plano ambicioso, e provavelmente a melhor ideia à mesa.
No entanto, na atual atmosfera de dor, urgência e ódio, é um objetivo difícil de ser atingido.
Essa solução não vai acontecer sob as atuais lideranças tanto de Israel quanto dos palestinos.
Netanyahu não revelou quais são seus planos para o pós-guerra, mas rejeitou a ideia dos EUA de instalar um governo liderado pela Autoridade Palestina, comandada pelo presidente Mahmoud Abbas. A organização provisória de autogoverno palestina foi expulsa de Gaza pelo Hamas em 2007.
A segunda parte do plano americano seria a negociação de uma solução de dois Estados, algo que o primeiro-ministro israelense tem sido contra durante toda sua carreira política.
Netanyahu não é apenas contra a independência dos palestinos. Sua sobrevivência no cargo depende do apoio de judeus extremistas. Eles acreditam que todo o território entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo foi dado por Deus ao povo judaico e deveria estar dentro das fronteiras de Israel.
Muitos israelenses querem Netanyahu fora do governo e o apontam como culpado pelas falhas de segurança e inteligência que permitiram os ataques de 7 de outubro.
Aos 88 anos, o presidente palestino Mahmoud Abbas está desacreditado entre seus potenciais eleitores, embora ele não tenha se submetido ao escrutínio das urnas desde 2005.
A Autoridade Palestina coopera com Israel na segurança da Cisjordânia, mas não consegue proteger sua própria população de colonos judeus armados.
Lideranças políticas mudam, eventualmente. Mas se essa terrível guerra em Gaza não forçar israelenses, palestinos e seus poderosos aliados a tentar chegar a um acordo de paz novamente, o único futuro possível será mais guerra.
 #Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!
#Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!