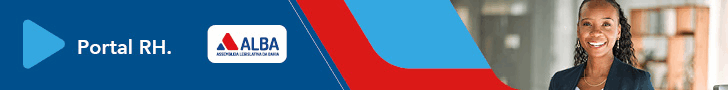Na disputa entre Argentina e França na final da Copa do Mundo de futebol masculina, uma diferença ficará clara entre as duas seleções antes mesmo da partida começar.
De um lado, um país europeu que tem pelo menos metade de jogadores negros no time. Do outro, um sul-americano que não tem nenhum, ou quase nenhum.
Esse debate sempre volta a ganhar fôlego nas Copas. Foi assim nas últimas edições e, agora, não foi diferente.
Os jornais Washington Post, dos Estados Unidos, e o britânico The Guardian, a rede Al Jazerra, do Catar, o portal UOL, no Brasil – todos eles perguntaram:
“Por que não há negros na seleção da Argentina?”.
Uns acusam que é racismo. Outros retrucam que foram escolhidos os melhores.
É um fato que o time argentino não tem jogadores de pele retinta ou um pouco mais clara como a maior estrela da França, Kylian Mbappé.
Mas um olhar mais atento para la Albiceleste mostra que não são todos brancos.
“É evidente que há jogadores afrodescendentes ou de ascendência indígena”, diz o ativista e advogado Alí Delgado, professor da Universidade de Buenos Aires (UBA).
A questão é que muitas pessoas, especialmente entre os argentinos, não os reconhecem assim, diz Delgado. “E o resto do mundo não os vê assim, porque não compreende a questão racial aqui na Argentina.”
Talvez, então, a pergunta deva ser um pouco diferente: Por que a seleção da Argentina é tão branca?
“Quando pensamos em um time nacional cremos que é um reflexo daquele país. Acho que estamos vendo isso com a Argentina”, diz Erika Edwards, professora de História Latina da Universidade do Texas em El Paso, nos Estados Unidos.
Edwards aponta que há vários jogadores argentinos que poderiam ser descritos como morochos, pessoas de pele escura – como Maradona -, mas não necessariamente considerados negros.
“Eles refletem a diversidade racial argentina, e essa diversidade precisa ser reconhecida.”
‘Aqui não há negros’

Maradona foi um ‘morocho’ que fez história com a seleção CRÉDITO,REUTERS
Delgado, Edwards e muitos outros apontam que foi criado ao longo da história da argentina o mito de que o país é uma exceção na América Latina, uma nação branca de descendentes de europeus.
O presidente Alberto Fernández disse em uma coletiva em 2021, por exemplo, que “os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas, nós, os argentinos chegamos nos barcos” e teve que se retratar.
“Na primeira metade do século 20, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que conviveram com nossos povos originários. Nossa diversidade é um orgulho”, justificou-se.
O presidente argentino disse ainda que não quis ofender ninguém e se desculpou com quem havia se sentido invisibilizado.
O sentimento de ser invisível é compartilhado por muitos em um país onde não é incomum ouvir: “Aqui não há negros”.
A principal bandeira do movimento negro no país é a luta pelo reconhecimento da existência dos afrodescendentes, escreve o sociólogo Guillermo Orsi em um artigo recente.
O mito da homogeneidade racial na Argentina não “reflete a realidade histórica”, diz Orsi, mas “tem se espalhado pela população desde os tempos da colonização e independência, permanecendo quase intacto até o fim da primeira década do século 21, quando começou a ser posto em questão”.
Quantos argentinos são negros?

Argentina forjou a imagem de um país branco de descendência europeia, dizem estudiosos CRÉDITO,REUTERS
A verdade é que a Argentina não sabe exatamente quantos afrodescendentes tem, porque, até pouco tempo, não havia perguntado.
O Censo de 2010 foi o primeiro a incluir essa pergunta e, mesmo assim, só para uma parte da população.
O resultado foi que haveria 149,5 mil afrodescendentes entre os 40,1 milhões de argentinos, 0,37% do total. A título de comparação, no Brasil negros são mais da metade.
Ativistas e acadêmicos dizem que o número é na realidade muito maior.
Dificuldades na realização do censo, operacionais, financeiras e políticas, podem ter prejudicado a contagem, explica Eva Lamborghini, pesquisadora do Grupo de Estudos Afrolatinoamericanos (Geala) da UBA.
“A inclusão da pergunta foi um feito histórico dos ativistas, mas a campanha de sensibilização à ela e à categoria em si foi muito escassa, em um país onde ainda hoje essa identificação é desconhecida pela maioria”, afirma.
Um teste piloto para o censo feito cinco anos antes, em bairros de Buenos Aires e Santa Fé, apontou, por exemplo, que haveria 2 milhões de afrodescendentes na Argentina, ou seja, cerca de 5% da população.
“Imagino que deve ter ao menos o dobro, e estou sendo conservador”, afirma Alí Delgado.
Uma conta mais precisa deve sair do Censo de 2022, o primeiro que perguntará a todas as pessoas se elas têm ascendência africana.
“A expectativa é que o número cresça, não só pelo alcance da pergunta, mas porque se passaram dez anos do último censo e se avançou muito em termos do reconhecimento afro no país”, diz Lamborghini.
‘Negação da negritude’
Delgado também avalia que o percentual oficial vai subir, mas ainda assim não irá refletir a realidade.
“Muitas pessoas não sabem que são afrodescendentes – ou não se interessam em saber – e pensam que são brancos. Historicamente, muitas pessoas começaram a ocultar familiares negros, e as famílias foram eliminando outros elementos da cultura africana”, afirma.
Além disso, há quem não quer ser visto como negro, diz Delgado, por não entender que a ascendência africana faz parte do que é a Argentina ou para escapar dos estigmas associados a ser identificado assim.
“Em um mundo racista, isso nunca é positivo”, afirma o advogado. “O negro é exótico, hipersexualizado, te olham muito mais na rua, o segurança te segue na loja, não se vive tranquilo.”
Além disso, o negro é com frequência considerado um estrangeiro à primeira vista, diz Delgado: “Não se concebe o negro argentino. Muitas vezes me perguntam na rua de onde eu sou”.
A isso se somam o retrato histórico dos negros apenas como escravizados, ausentes de eventos importantes, uma “negação absoluta da negritude” da Argentina, diz Delgado, e a falta de representatividade na sociedade hoje.
“Praticamente não há negros nas universidades, são menos ainda entre os professores. Não há na política, pelo menos não nos lugares mais importantes, ou nos âmbitos empresariais ou da Justiça”, afirma Delgado.
Silêncio racial
Os negros são parte da história e da sociedade argentina, apesar de isso não ficar imediatamente óbvio com a seleção de futebol masculina.
O país foi uma colônia espanhola e recebeu dezenas de milhares de africanos escravizados nesta época. Os negros eram no fim do século 18 cerca de um terço da população, de acordo com dados históricos.
Então, como eles se tornaram menos de 1%?
Uma explicação corrente é que muitos teriam morrido nas guerras travadas no país no século 19, mandados para a “linha de frente” dos conflitos.
Outra afirma que os negros, por serem mais pobres, padeceram mais em epidemias, especialmente a de febre amarela, na mesma época.
Ou ainda que a população negra declinou depois da abolição do tráfico de escravos, o que deixou de compensar as altas taxas de mortalidade.
Estudos acadêmicos já refutaram essas hipóteses, mas elas são ainda muito citadas nos debates sobre a questão racial no país.
O que ocorreu foi na verdade um progressivo “apagamento” dos negros da sociedade, explica Edwards, desde que a Argentina decidiu, no final do século 19 e início do século 20, atrair imigrantes europeus como parte de um projeto de nação mais moderna – e branca.
“O número de imigrantes que chegou foi imenso, não dá para negar que essa quantidade de pessoas teve um efeito na proporção de negros na sociedade”, afirma Edwards, que escreveu um artigo para o Washington Post sobre o assunto.
A historiadora Florencia Guzmán, que coordena o Geala, recorda que a Constituição de 1853 estabeleceu que os cidadãos não seriam mais distinguidos por cor ou raça.
“O silêncio racial podia parecer progressista no plano jurídico, mas, na prática não era tanto, porque constituiu a Argentina como um país branco e europeu com a massiva imigração europeia, um ‘crisol de raças'”, afirma Guzmán.
‘Quem quer ser oprimido?’

Mbappé, a estrela da França, seleção mais da metade de jogadores negros CRÉDITO,REUTERS
Delgado afirma que, ao mesmo tempo, os negros foram por muito tempo contabilizados na população, junto com indígenas e outras etnias de pele mais escura, como trigueños.
“Foi um genocídio discursivo. Criou-se uma categoria racial que meteu a todos no mesmo saco, e isso foi uma via de escape para muita gente, porque não era positivo ser negro. Quem quer ser oprimido?”, afirma o pesquisador.
Guzmán aponta que os recenseadores tinham ainda uma concepção “restritiva e dicotômica” da população negra.
“Eles consideravam negros só os africanos ou a população de cor antes de toda miscigenação. Essa concepção ‘purista’ não poderia levar a outra coisa que não a subestimar a presença dos descendentes de africanos no país e à homogeneização da população na construção de uma imagem de um país branco, sem raças”, afirma.
A Argentina também passou por uma miscigenação maior do que, por exemplo, o Brasil, o que “ampliou o conceito de negritude”, diz Delgado.
“Se a pessoa não tem pele bem escura ou cabelo crespo, não é considerada negra. Isso também reduz muito a quantidade de afrodescendentes.”
Mas a seleção argentina já teve jogadores negros no passado, lembra Delgado, inclusive entre os seus campeões mundiais.
O goleiro Héctor Baley, o “Chocolate”, foi da seleção de 1978, e o volante Héctor Henrique, o “Negro Henrique”, jogou em 1986.
“Então, houve negros no passado, há visivelmente afrodescendentes hoje e haverá outros no futuro, mas a negritude é distinta.”
O pesquisador diz ainda que, na final da Copa, o time da França também não refletirá a população do país e que isso diz muito mais sobre seu colonialismo.
Edwards concorda com a parte do colonialismo, mas considera que a seleção argentina “reflete a Argentina de muitas formas”.
“Acho isso muito interessante e que tem algo a dizer da imagem que o país tem de si mesmo. Se é uma imagem correta ou não, deixo para os argentinos responderem.”
 #Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!
#Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!