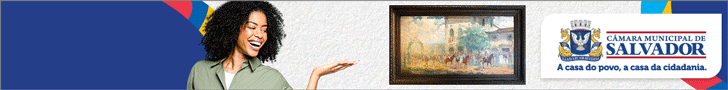Mayara Torres, de 25 anos, começou o ano de 2020 pensando em ser candidata nas eleições municipais. Moradora do bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo, ela estava filiada a um partido, a Rede Sustentabilidade, e já fazia um trabalho político, como membro do conselho participativo municipal.
Mas a advogada, que conforme reportagem da Folha de SP, fez faculdade com bolsa de estudos, desistiu de tentar uma cadeira de vereadora. “Minha família é pobre, vim da periferia, não sou filha de ninguém da política, não posso largar o trabalho para me dedicar à pré-campanha, sou mulher e jovem. Fiquei insegura”, diz.
Os motivos são os mesmos que afastam muitas mulheres da política no Brasil. E também os que dificultam o caminho daquelas que, insistindo no direito de participar da vida democrática, ainda encontram barreiras para ocupar um lugar historicamente reservado aos homens.
A disparidade, comprovada pela matemática, ganha novos contornos para o pleito deste ano, marcado por campanhas para aumentar a presença feminina nas Câmaras Municipais e prefeituras. Apesar de avanços nos últimos anos, a sub-representação ainda é um problema.
A progressão na quantidade de mulheres eleitas tem sido irregular. A eleição de 2018 trouxe resultados dignos de comemoração, como o incremento de 51% no número de deputadas federais e de 41% no de deputadas estaduais, na comparação com 2014.
No Senado, o percentual ficou estável (13%), assim como nas disputas dos governos estaduais, que repetiram 2014, com apenas uma governadora eleita —Fátima Bezerra (PT), no Rio Grande do Norte.
Nas eleições municipais de 2016, as notícias também tinham sido desanimadoras: depois de uma sequência de altas, o número de prefeitas eleitas no país teve leve queda, segundo levantamento feito pela Folha. Saíram vitoriosas para o Executivo 644 mulheres (11,6% do total), ante 671 em 2012 (11,8%).
No caso das vereadoras eleitas, foi registrado um ligeiro avanço: de 7.656 em 2012 (13,3%) para 7.823 em 2016 (13,5%), em uma mostra de que o crescimento ainda se dá em ritmo instável, e distante do pretendido pelos que sonham com a paridade de gênero.
“Somos 52% da população brasileira, mais da metade, e ainda assim somos sub-representadas. Toda vez que se fala em decisões importantes, a gente está em papel coadjuvante”, diz Mayara, que espera no futuro um caminho menos pedregoso para se candidatar. “Minha hora vai chegar.”
Para o bem e para o mal, o cenário mudou bastante nos últimos quatro anos. Por um lado, a pauta feminista tomou proporção inédita, com reflexo no estímulo à participação nos espaços de poder, inclusive com a obrigação de partidos destinarem 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas.
A determinação, que será aplicada neste ano pela primeira vez, é uma evolução da regra segundo a qual as legendas têm que preencher com mulheres no mínimo 30% das vagas nas chapas para o Legislativo, em vigor desde 2018.
Na via oposta, velhas barreiras se aprofundaram e novas surgiram. Enquanto movimentos independentes, partidos e líderes políticos trabalham para atrair mulheres, iniciativas como a da reserva de vagas têm produzido efeitos danosos à causa, como as candidaturas laranjas.
Um esquema no PSL, partido ao qual Jair Bolsonaro estava filiado quando se elegeu presidente, evidenciou o problema. Mulheres foram registradas como candidatas só para cumprir a obrigação legal, mas não fizeram campanha, contribuindo indiretamente para a eleição de homens.
O sistema que vai estrear neste ano para a escolha de vereadores também preocupa entusiastas da bandeira ouvidos pela Folha. Com o fim da coligação nas eleições proporcionais, cada partido lançará sua própria chapa.
Como o número de candidatos ao Legislativo tende a se multiplicar, o novo sistema é associado a um potencial aumento no uso de candidaturas de fachada.
“Tendo a concordar que pode haver aumento no número de laranjas só para cumprir o percentual”, diz a cientista política Monica Sodré, ligada à organização Raps (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade).
“Isso compromete o avanço da representação da mulher na política. É mais um desincentivo, já que há uma visão equivocada de que ‘os espaços estão aí, mas as mulheres não têm interesse’, além de faltar uma rede de apoio para muitas delas”, afirma a diretora-executiva da entidade.
“E ainda tem a pandemia”, lembra a “ex-futura-candidata” Mayara, citando mais uma causa de sua desistência. “Conversando com outras mulheres, vi que esta crise foi determinante para repensarem a candidatura”, diz, em referência à sobrecarga em casa e à falta de tempo e recursos para a campanha.
Segundo pesquisadores e ativistas ligados ao tema, o pensamento machista está na raiz da série de desafios impostos às mulheres, que começa na falta de poder decisório dentro dos partidos, passa pela dificuldade de financiamento e esconde uma desconfiança permanente sobre a capacidade.
“Todas as mulheres que conseguiram entrar no espaço da política por alguma via que não foi a da tutela, de ser filha ou mulher de alguém, são pioneiras”, diz Marina Silva (Rede), ela mesma tida como uma precursora. Pobre e negra, foi a mais jovem senadora eleita do país, em 1994, aos 36 anos.
Segundo a ex-ministra e ex-presidenciável, pesam sobre pessoas como ela muitas interdições. “Tem coisas que acontecem com as mulheres que não necessariamente acontecem com os homens”, acrescenta, citando a pecha de “sumida” que recebeu nas campanhas de 2014 e 2018.
“Temos ganhos e avanços [na participação], mas eles são também uma grande denúncia, porque a diferença ainda é abissal. Há uma naturalização no imaginário de que não há tantas mulheres para ocupar cargos públicos, assim como negros, índios e outros segmentos vulneráveis e excluídos da sociedade.”
As cotas femininas, defendidas por Marina, são frequentemente alvos de contestação no Congresso. Deputadas como Renata Abreu (Podemos-SP) e Caroline de Toni (PSL-SC), por exemplo, já apresentaram projetos de lei para modificar o sistema de reserva de vagas para candidatas.
O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL-SP), que em março promoveu um curso gratuito com 70 participantes na Baixada Santista para estimular a entrada de novos nomes na política, faz coro aos parlamentares e dirigentes partidários contrários à obrigatoriedade.
“A verdade é que hoje as mulheres não estão tão presentes na política porque elas não querem se colocar à disposição e porque [os partidos] não incentivam. Acho que colocar uma regra só, ela é muito seca. Não concordo”, diz ele, que exerce o primeiro mandato.
O deputado admite, contudo, que sem a lei “os partidos vão buscar só homens”. Para ele, em vez da imposição, deveria haver “campanhas de conscientização para motivar e inserir” mulheres, até que isso se torne algo natural. “A gente não pode fechar as portas, de jeito nenhum.”
Apesar dos obstáculos, ativistas em defesa de mais mulheres nos palanques, gabinetes e tribunas sustentam um discurso de otimismo para este ano. O simples aumento no número de candidatas já é visto como uma vitória e um indicativo de que, se o interesse crescer, um passo já terá sido dado.
Também está no centro do debate a chamada interseccionalidade (quando duas ou mais questões se sobrepõem), que militantes dizem não poder ser desconsiderada. Seria o caso de uma mulher que também é negra, ou LGBT, ou moradora de periferia —ou tudo isso junto ao mesmo tempo.
Os candidatos “historicamente excluídos”, como Marina Silva se refere a eles, têm com a retórica de Bolsonaro e apoiadores um obstáculo extra. Para a ex-senadora, o discurso de setores da direita refratário à inclusão de minorias acende um alerta para a eleição.
“Em outros cenários, já era difícil. Imagina agora, num contexto em que pessoas não têm mais nenhuma interdição ética, moral e humanitária para tentar desqualificar esses grupos”, diz ela, acrescentando que o ambiente pode também ser visto como “um chamamento para que se avance na direção contrária”.
 #Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!
#Acesse Política | O site de política mais acessado da Bahia! O site de política mais acessado da Bahia!